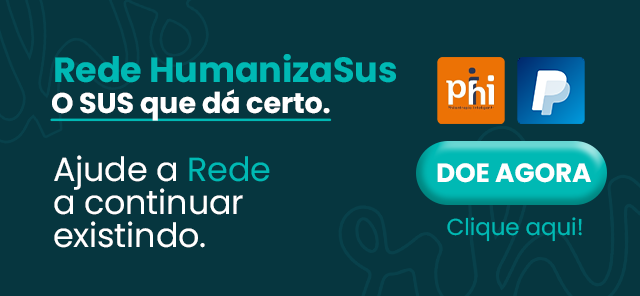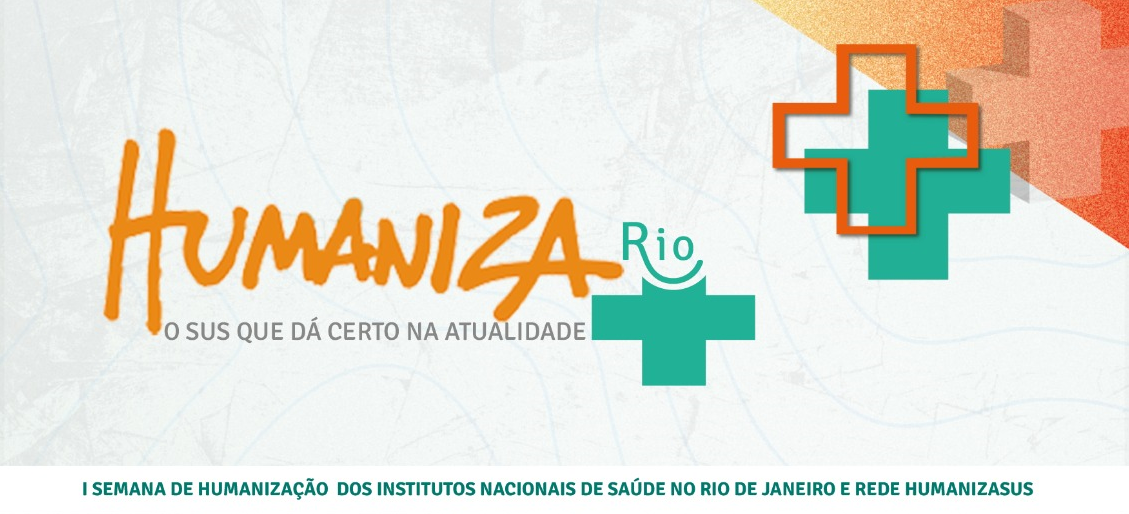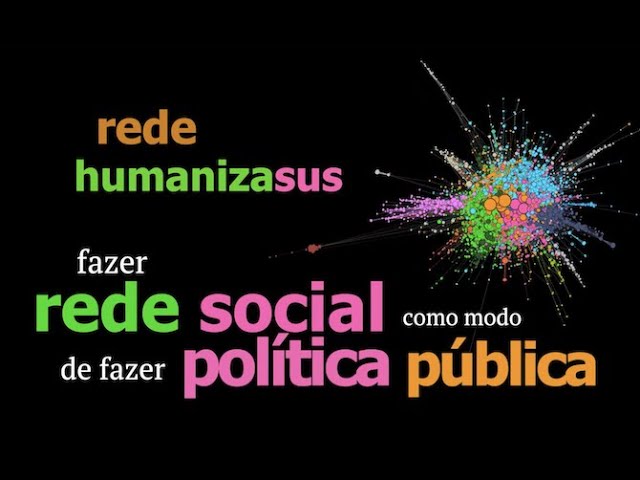No primeiro dia de novembro de 1755 um terremoto causou um tsunami que devastou Lisboa causando cerca de 10 mil mortes. Um percentual enorme da população da cidade naquele tempo.
Parte das vítimas foi pega no momento de celebração na missa, vivendo suas vidas inocentes ou pecaminosas. Provavelmente dos dois modos de acordo com o julgamento de quem os pudesse olhar.
Foi, segundo o senso comum, um castigo de Deus. Mas, inegavelmente atingiu a alma dos viventes em seu caráter coletivo. Morreram, indistintamente, os que estavam no caminho da força dos elementos, agitados pela energia do terremoto.
Porque esses eventos catastróficos acontecem?
No século XVIII, na Europa, se imaginava que a ordem divina determinava o mundo físico e espiritual. Explicar, então, o infortúnio dos justos, consistia num desafio teológico.
De lá para cá, entendemos melhor os mecanismos do clima e da geologia do planeta. Estamos a bordo de um corpo celeste sujeito às forças universais que regem a formação das estrelas e seus sistemas planetários.
Eventos da magnitude do choque de asteroides com a superfície terrestre, terremotos e erupções vulcânicas interferem de modo intermitente com a vida. Nossa existência, e grande parte de nossos sofrimentos e alegrias, seguem no interstício das grandes extinções em massa que renovam as formas de vida em escalas de dezenas e centenas de milhões de anos.
Entre abril e maio de 1941 uma grande enchente inundou a cidade de Porto Alegre. Sete décadas depois, num mundo radicalmente diferente, uma população muito maior, muito mais interdependente da infraestrutura sócio civilizacional, enfrenta outra grande catástrofe.
Nesse momento, sabemos de modo mais difuso, devido a educação e a interconectividade, que esta catástrofe está diretamente relacionada ao nosso modo de vida. O modo como constituímos a estrutura urbana, a forma e a dimensão demográfica de nossa ocupação do espaço geográfico, determina que eventos climáticos recorrentes, como a variação na intensidade do ciclo hídrico, recebam a adjetivação de catastróficos para milhões de habitantes de nossa cidade e estado.
Mas algo inédito assombra nossas considerações. Em 1755 ninguém poderia imaginar que uma sociedade pudesse alterar o regime das chuvas e o clima no planeta. Naquela época a América era considerada o “novo mundo”. Hoje sabemos que a terra é um mundo entre incontáveis outros.
Estamos cientes de que temos a capacidade de sermos um fator desencadeante dessa tragédia que nos afeta. Ou seja, ao mesmo tempo em que estamos acordando da ilusão do individualismo, afinal não podemos beber água, sem o esforço conjugado de todos na estrutura social que construímos, também percebemos que podemos ser a infecção fatal do organismo social que nos mantém vivos.
Nos damos conta de que o drama da existência de cada um de nós, se entrelaça com o destino comum, com a sina coletiva da espécie humana.
Tenho 53 anos. Temo por mim, por meus familiares e amigos, certamente. Mas também sei que não poderemos estar bem se a comunidade em que vivemos, não gozar do mesmo bem que desejo para mim e meus próximos.
Além disso, podemos sentir o início de uma angústia que é sintoma de uma virtude: Espero que sejamos capazes de temer o fracasso como sociedade, como cultura, como seres vivos conscientes de si e de seu entorno.
Temos que sentir medo de assassinar as gerações futuras com o punhal que é nosso modo de vida predatório.
As gerações dos últimos 170 anos, especialmente no mundo industrializado ao longo dos séculos XIX e XX, mas quase todas as nações do mundo agora no século XXI, podem considerar a responsabilidade, cada um com seu modo de viver um dia após o outro, nos eventos extremos do clima, na ressurgência de pandemias e o que mais vier pelas próximas décadas.
Nós abrimos duas frentes que combinadas podem fazer desabar até os escombros a civilização:
Primeiro, nosso modo de vida altera os gazes atmosféricos, devasta a fauna e a flora. O ambiente responde a nossa interferência tornando inviável nosso modo de vida.
Em segundo lugar, nosso modo de pensar a interdependência entre aglomerados demográficos e culturais espalhados pelo planeta é o mesmo que vigora entre gangues de rua ou facções criminosos que se enfrentam até a destruição mútua.
Na Ucrânia e na Palestina, vemos o espectro da doutrina da Destruição Mutuamente Assegurada degenerar numa possível (e impensável) guerra com armas de destruição em massa.
Não se trata de uma racionalidade que se degrada. O caso é de uma espécie de demência no âmago da razão.
Mas será tudo isso – o exemplo do terremoto de Lisboa de 1755, a periódica extinção em massa nos registros geológicos e fósseis, as guerras e as mudanças no clima global – um sinal do destino e um sintoma natural de uma espécie que atinge a autoconsciência?
Somos um elo na história biológica das espécies. O que fazemos só é artificial se admitirmos uma certa vergonha em fracassar num destino sobre o qual temos responsabilidade. Se não podemos lamentar o curso das ações que nos trazem sofrimento, nossa tragédia não é mais do que o destino.
O destino dos crentes em Lisboa naquele dia de novembro de 1755, o destino das espécies de dinossauros hoje extintas, o curso biológico dos corpos de cada um de nós, e da espécie humana, como um todo, é natural.
Nosso destino é parte da natureza, na mesma medida em que somos parte dela, parte do corpo genético da própria vida.
Nesse caso nós causamos, de modo natural, tanto a nossa extinção eventual, como produzimos a nossa persistência na vida até agora.
De qualquer forma, sem sermos capazes de nos envergonhar, sem superarmos nossas ilusões e preconceitos, o que está adiante de nós é o mesmo silêncio que observamos em todas as direções que olhamos para o universo profundo.