
Poderia ficar apenas na beleza literária do texto publicado por Eliane Brum em El País (https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/20/opinion/1466431465_758346.html), se isto não fosse também um esvaziamento da palavra, como ela com maestria disserta, tão bela, tão poética, mas de uma contundência arrepiante, que enregela a alma, enrijece o corpo e faz a dita consciência envergar num peso de luto sem cadáver, porque os mortos são os vivos que não se fazem viver. Enquanto os desencarnados vagam sem história e justiça pela terra, não direi do esquecimento, mas do não querer lembrar, já que no esvaziamento da palavra segue junto uma disfunção da memória que desfaz qualquer possibilidade de história.
Explico, história como protagonismo de uma palavra viva que age, com rastros de movimento em ação constante. Diferente daquela que, esvaziada de sangue, espoliada de vida que vive, é apenas uma história que nos contam e que querem que persista, no sequestro de nossa volição e memória. História fantasma que se move sem corpo pela falta de um corpo que a encarne; história que desencarna a vida num massacre de vida.
Massacres que Eliane cartografa numa coleta bela, mas indigesta, porque faz as lágrimas se envergonharem de não rolar e a expressão vestir-se de um luto vexado e indignado por falta de carpideiras que o chorem e o transformem em ação. Luto da palavra, esvaziamento da vida que, sem vazio, ceifa carnes, tritura ossos e apaga nomes de infames que, contudo, continuam gritando para os ouvidos surdos que já não ouvem as palavras vivas, mas apenas as arquitetadas por um golpe repetitivo que se repete no silêncio de todos os brasileiros, fazendo a Terra Mãe vermelha, porque o ouro amarelo de sua bandeira assassina o verde de suas matas e torna negra a faixa que deveria cruzar o céu anil estrelado, tornando o branco um simulacro de ordem e progresso que se sustenta apenas no vazio de nossas palavras que já não agem.
Enfim o golpe. E qual o nome do golpe que se repete?
Silenciamento e silêncio das palavras que já não agem. Ação de uma palavra que, buscando Foucault, diríamos fingir que não entra na relação de forças, mas, omissa, se deixa levar por um domínio conveniente, porque afinal é um jogo que se joga lá e do qual não fazemos parte. Fácil entorpecimento de uma má consciência que, entrando no jogo, finge não jogar, porque a culpa é sempre daquele que, forte, faz de minha fraqueza a potência que eu deixo de usar, porque, afinal, política é uma coisa suja do qual quero lavar as mãos e, por lavá-las, me deixo sujar e sujo junto na minha fingida não participação.
Golpe da corrupção, porque ela só se perpetra e perpetua num rompimento consentido que finge não consentir. Antes de designar a venda ilegal de favores por representantes do poder público, corrupção é deterioração, decomposição física, apodrecimento. “Corrupto” vem do latim corruptus, particípio de “corromper”: é o corrompido, o podre, o que se deixou estragar.
Com Elaine Brum, ousaria dizer, o que se deixou estragar na ação da palavra viva e se deixa ficar falsamente indignado ou indiferente com a força da palavra que age, aparentemente em nome de usurpadores, mas que usurpa aquilo que deixamos, porque nos resignamos em sermos e estarmos podres ante a podridão daquilo que, sem máscara e com escárnio, se infiltra como realidade e força de uma lei que não pode ser chamada de poder e justiça, porque é domínio consentido sobre uns poucos. Não é isto, enfim, que Foucault nomearia o estabelecimento da verdade como prática discursiva?
“Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem me detesta”, dizia o poeta Cazuza, porque “a nossa piscina está cheia de ratos e nossas ideias não correspondem aos fatos”, já que há fatos que não se dizem e não se podem dizer no esvaziamento do poder de agir da palavra. A palavra que pode agir silencia e o silêncio é o golpe consentido do golpe implantado.
“Assim, é ainda mais complicado do que censura, é ainda mais complicado do que não poder dizer. Porque, de novo, as palavras existem. As palavras são ditas. Mas nada dizem, porque não produzem movimento suficiente para transformar a realidade. Neste caso, movimento suficiente para promover justiça, para que as palavras possam dizer que este país não tolera – nem tolerará – torturadores e assassinos, que este país não tolera – nem tolerará – ditadores e ditaduras”.
Está certa Elaine Brum, assim penso, porque o silêncio dos que poderiam falar, gritar e fazer disto movimento é também uma forma de tortura, assassinato e instituição de uma ditadura através do silêncio que acaba, enfim, consentindo com o estado de coisas que, de outra forma, só poderia ser intolerável.
Sem me contrapor, perguntaria apenas a Eliane Brum se as palavras realmente não dizem ou se há apenas algumas palavras que não podem dizer nada. Palavras de vivos transformados em fantasmas por aquela palavra que age elevada à enésima potência por um silêncio que também é palavra, pois silencia apenas diante daquilo que não quer deixar ser expressão viva de uma vida que pouco interessa. São vivos transformados em fantasmas por zumbis que só querem suas próprias vidas de mortos satisfeitos em fazer da vida uma mortalha de luxo e lixo que se confundem. Cafetinagem da vida, utilizando Suely Rolnik.
Talvez “a barbárie de um país em que as palavras já não dizem” seja, na realidade, a barbárie de um país em que o poder de dizer e agir através da palavra tenha sido transformado em domínio sobre palavras que já não podem dizer.
Só não o pode, decerto, porque uma prática discursiva se implantou e hegemonizou pela força do não dizer de palavras que só se dizem no silêncio que consente, fingindo não saber o que sabe e não fazer o que faz. Esta, enfim, a raiz e a fundação instituinte cotidiana de um golpe que representa a todos que se calam. Afinal, os empoderados não dizem e bradam (ação da palavra) que representam Deus, Família e Nação?
Qual Deus, qual família, qual nação senão aquelas dos que, calados, não ousam dizer que não são os seus? E se não o dizem é porque estão mesmos sendo representados em seu silêncio que é grito de consentimento.
Por que diante de tanto atropelamento da democracia, da justiça, da ética, da vida digna de ser vivida tantos se calam? Não podem dizer ou dizem, esvaziando o poder de agir da palavra que possuem e, possuindo, não utilizam?
O golpe é de todos os que agem em suas práticas discursivas e de todos que não agem através do silêncio conveniente. Os golpeados são os que, ostensiva e violentamente submetidos a ser fantasmas, inventam novas formas de ação para a palavra que dizem, quebrando momentaneamente a muralha de gelo do silêncio imposto.
Quebra arriscada, da qual Juma, a onça olímpica, aparece como um devir animal daqueles que ousam, porque vivos, se dizer de alguma forma. Afinal, só os vivos, os realmente vivos se expressam. Os zumbis apenas navegam no poder de agir da palavra que mata para poder continuar viva.
Juma, a onça louca que ousou se revoltar contra o espetáculo circense da vida em cativeiro, com seu natural ser selvagem. não tinha outra opção senão agir, já que a palavra do animal não se separa de seu corpo, ele fala com o corpo.
Abatida em meio ao espetáculo, Juma ocupou o espetáculo, fez de sua falta de saída e de escolha uma escolha de vida, ainda que para morrer.
E assim, “a pietà negra do Brasil atravessou o esvaziamento das palavras” em sua estética/política/ética espontânea não de reação, mas de ação da palavra viva, porque a única pá que pode lavrar o lixo da corrupção é a expressão viva da revolta. Re-volta que fala através do sangue o que o que pode o corpo não mais pode dizer. Inventa outra expressão, outra fala, outra língua, mas não se cala.
Uma volta sempre repetida, mas nunca a mesma, de uma multidão de infames que Elaine Brum cartografa (alguns só alguns, há muitos) em seu texto e cujo golpe, também repetido, é massacre perpetrado em silêncio por uma multidão de “inocentes”.
Todos sabem falar, todos sabem gritar, todos são humanos, demasiadamente humanos e não podem deixar de saber o nome daquilo que praticam. Para alguns, expressão é sapatilha de arame farpado, para outros, troca econômica de vantagens belas, recatadas e do lar.
Alguns morrem tentando viver, outros vivem perpetuando seus corpos zumbis com ojeriza ao imprevisível da vida. “Navegar é preciso, viver não é preciso”, dizia Pessoa.
Em meio a tudo isto, em que falo do texto da Eliane Brum sem explicitá-lo, porque penso que ele tem de ser lido, deve ser lido, trago esta reflexão para as águas calmas em que estamos navegando por aqui, apenas para provocar e atear fogo na fogueira.
O que estamos dizendo com tanto silêncio? Ou acreditamos mesmo que não dizer é não falar?






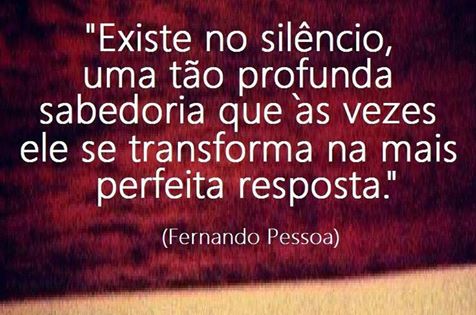









Por Ricardo Teixeira
Belo texto, como de costume, Miguel.
Ele ecoa, sustentando a intensidade, o texto arrebatador da Eliane Brum…
Há, entretanto, um paradoxo em ambos os textos: tentar dizer com palavras que as palavras já não dizem. O que, talvez, indique que “dizer” não é a única função das palavras.
Entendo que o texto da Eliane diz mais do que das palavras. Ele não sugere que haja uma “força de dizer” intrínseca das palavras, mas de que essa força decorre da relação das palavras com mundo. Nesse sentido, não há nada que se possa fazer com as palavras em si que restauraria sua força. É a sua relação com mundo que é problemática…
Digo isso para questionar um ponto do seu texto que me soa como um desafio a um suposto silêncio. Tendo a discordar da primeira frase do texto, que sugere que um “não falar” possa contribuir para o esvaziamento das palavras. E tendo a concordar com a pertinência da sua questão final: “O que estamos dizendo com tanto silêncio?”
Porque a falastronice tem contribuído muito mais ao esvaziamento das palavras do que todos os silêncios… Muito mais!
Fiquemos, então, com essa sua última pergunta…
E obrigado por, mais uma vez, fazer dessa Rede um palco de discussõe essenciais, um espaço para “ocupação” do vazio das palavras!
Grande abraço!