Seven, O Homem de Aço e Onde os fracos não vem vez.

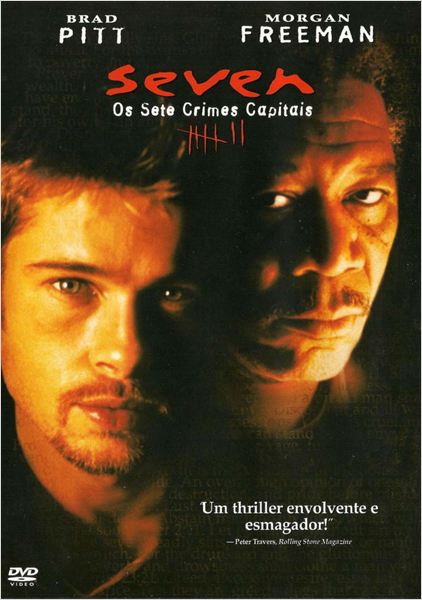
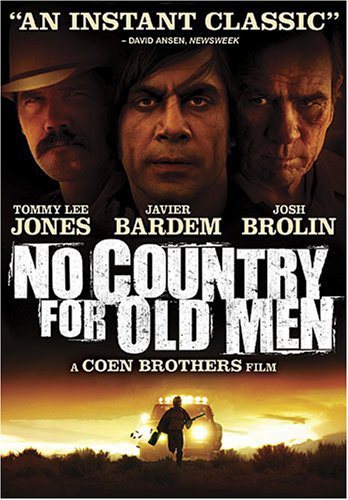
David Mills “sabe”, como policial e investigador novato que o mal é tosco, doentio e errado. O oposto da sabedoria letrada que não possui, mas inveja. Ele é impetuoso, se alimenta de emoções, como afirma antes de enxotar um jornalista que tenta se aproximar da cena de mais um dos crimes que investiga ao lado de William.
William Somerset, um velho detetive, há sete dias da aposentadoria teme que a infâmia não seja um erro, um sintoma da psicopatia intermitente que assola a humanidade. Com anos de experiência em investigar assassinatos ele começa a acumular evidências de que a racionalidade fria, a cultura e erudição que ele mesmo aprecia e ostenta são a raiz do mal. A luz, a inteligência e o conhecimento humano aparecem para Somerset como as verdadeiras origens da violência entre os homens.
São dois investigadores obstinados, parceiros diferentes e no fundo pessoas comuns vivendo situações extraordinárias, no filme de David Fincher de 1995. Um filme denso, angustiante, claustrofóbico e úmido.
O segundo milênio do cristianismo começava a sua última metade de década com uma grande desconfiança na razão e na luz do conhecimento. Uma mistura de encadeamentos, entre a herança atávica e a emergência da razão, estava fazendo todo o século XX, parecer uma espécie de ápice da maldade, do genocídio e da loucura humana. Nunca tantos humanos estiveram sobre a terra antes. Nunca sofreram tanto e surdamente como ao longo de todo o século XX. Toda a dor e sofrimento que se intercalaram com as maravilhas das realizações do intelecto humano, produziram uma perplexidade que filosofia nenhuma tem sido capaz de avaliar o saldo final.
Ainda não sabíamos que viriam o 11 de Setembro, as guerras contra o terror, a intensificação da guerra as drogas, os 7,2 bilhões de humanos e a iminente crise de escassez de recursos energéticos, água e alimentos. Paradoxalmente em 1995 viria a se intensificar a disponibilidade de entretenimento, através da internet, redes de TV a cabo em alta definição e a nuvem de conteúdos que tornou obsoletos os arquivos físicos. A partir de então, aumentou-se a dimensão dos minutos ao colocarmos tudo e todos em possibilidade de acesso instantâneo. O tempo parece passar mais rápido pela incapacidade que sentimos ao saturar os instantes com sensações incessantes.
Hoje, julho de 2013, estamos sentindo a mesma euforia e inquietação que a Europa experimentava no início do século XX: muito recurso, muito futuro, saturação do presente e tédio. Sabemos que as ameaças são tantas que é improvável que algumas delas não venham a se concretizar. A combinação de infortúnios possíveis é tanta que apenas sua combinação já basta para que o mundo seja sacudido de uma forma que alterna anomia e convulsão.
Desde 2009 eu escrevia que a combinação, entre uma medicina de primeiro mundo e uma saúde de terceiro mundo, iria transbordar de nossa fronteira de debates corporativos para todo o tecido social. Hoje os temas do momento, são sintomaticamente a política, pela corrupção e a vida pela mercantilização da saúde. As balas de borracha e as balas de chumbo nos episódios dos protestos o Rio de Janeiro estão relacionadas ao mesmo tipo de paradoxo que movimenta as opiniões em torno do sistema de saúde no Brasil, sua medicina e a legitimidade dos profissionais formados no exterior ou no Brasil.
Na verdade se trata de como nós acolhemos nossos semelhantes. Do sentido, enfim, que damos a existência e a vida. A economia cognitiva de buscar os melhores salários com o menor custo afetivo é um roteiro certo para o desastre. Parece, apesar disso, ser o caminho que seguiremos.
Muito ódio e ressentimento, reacionarismo e protofascismo emergem como resposta a uma tênue redução da desigualdade no Brasil na última década. O fim do mundo, da família, da moral e dos bons costumes é um evento convergente para o apocalipse, ao lado da valorização de negros, homossexuais, mulheres e pobres em geral. Como se tudo estivesse no lugar em nossos 500 anos de história, antes de um pobre existir como presidente, político, marido e avô. Só pode ser o fim do mundo.
O aspecto cordial de nossas relações emerge com mais fidelidade na raiz etimológica do termo. Não somos cordiais no sentido de amigáveis. Nossa cordialidade tem a ver com coração, com passionalidade e paixão.
Três séculos de escravidão, quatro de genocídio étnico e cinco de exploração não podiam portar apenas paixões amigáveis. Confundimos facilmente nosso reflexo com nosso desejo e, como David Mills, esperamos que o mundo seja racional e culto como sabemos que não somos.
O tempo ensinou William Somerset que o mundo pode ser racional. Mas, que justamente por isso, a razão pode ser a raiz da loucura absurda que busca, no bem, no belo e no verdadeiro um retrato mutilado da condição humana.
Os sete pecados capitais e as sete virtudes cardinais exigem seu preço em castigo e punição. Mas o crime que se pretende punir é um fato da vida que não pode ser contornado. Sermos luz e escuridão é parte dos fatos que nos instituem. No entanto, os fatos importam pouco para nós.
Nosso sucesso em manter descendentes, ainda que por um limiar de tempo insignificante, parece depender de nossos desejos insaciáveis e inquietação inventiva. Antes de nos atermos ao que acontece, somos acometidos por desejos. E eles nos movem. Não importa muito o que sejam: utopias, realismos, projetos, sonhos, miragens… Tudo isso mantem as linhagens humanas numa espiral de eventos que trespassam as gerações.
Os mitos, como arrisca John Gray, nos dão a solidez de algo que nos preceda e sobreviva a nós mesmos. Eles mesmos são mortais, no sentido em que matam, mas também no sentido de que morrem. Os mitos não podem ser refutados, nem provados. Morrem quando o modo de vida que os inspiram deixa de existir. Geralmente chamamos a isso de "a história". É mais do que isso, visto que vem muito antes da escrita, antes da linguagem humana ter se consolidado de modo distinto do que nos demais animais.
Este tempo em que aconteceu de existirmos é um tempo da morte de mitos, e de deuses. É, de certo modo um privilégio. É uma sina. Tantas vezes quanto é uma graça é uma desgraça e, no sentido grego, é sempre uma tragédia.
Aqui neste ponto chegamos a segunda referência do título: O Homem de Aço, ou Man of Steel nos EUA, dirigido por Zack Snyder, produzido por Christopher Nolan e escrito por David S. Goyer. O personagem das HQs – Super Homem – foi criado em 1938 pela dupla de autores de quadrinhos Joe Shuster e Jerry Siegel. Uma referência direta a obra do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em que explica os passos através dos quais o Homem pode tornar um 'Super-Homem' em “Assim Falou Zaratustra”.
A ambiguidade na história deste herói alienígena é o que mais diz sobre sua função em nossa cultura. Ele é o Super Homem, mas também não é humano, seu pai e sua mãe são alienígenas. E em nosso mundo ele não é o ser típico (mas nessa versão incomum, pois é o primeiro em milênios a nascer de forma natural) que seria em seu planeta natal Krypton. Aqui na terra por causa do nosso sol ele se torna um semideus.
Clark Kent é sua identidade humana, dada pelo casal estéril, Jonathan e Martha Kent, que o tomam como filho. Simbolicamente é a forma que temos para humanizar o mundo imenso em que vamos descobrindo a grandeza infimamente pequena de nossos significados. Kal-El é um homem que (tendo tão pouco em comum conosco) é definido pelos poderes que o distanciam de nós. Assim como vimos formas terrenas nas constelações, vemos a nós mesmos em um ser alienígena.
Sua história foi contada e recontada muitas vezes desde 1939. Esta que está em cartaz no cinema é já a segunda do terceiro milênio. Mas desta vez o título fala em Homem de Aço e não em Super Homem. Mas o aço, o elemento menos relacionado a vida (talvez o Homem Carbono fosse mais humano, mas seria menos super, provavelmente) é o que daria ao homem a característica de super. Um mito muito real o do homem de aço. Desde a idade do metal, nossa capacidade de destruir se tornou extraordinariamente mais refinada.
O filme exagera muito, ainda mais num sala de cinema IMAX 3D.
Ver o que poderíamos fazer em nossos mais alucinados sonhos me levou a assistir de novo “No Country for Old Men (no Brasil, Onde os Fracos Não Têm Vez). Relembrei o papel do inusitado, do inesperado e do imprevisível na vida de qualquer um. Ouvir um velho ensinando a outro a sabedoria de que tentar dar uma direção ao mundo pode ser mera pretensão e arrogância, me fez lembrar a faceta estranha do budismo e do taoismo que mais atraem e intrigam os ocidentais.
Tive vontade de revirar minhas memórias mais duras e realistas. Pude ouvir de meu irmão a narrativa da ocorrência policial que atendeu em Passo Fundo: Um pai em surto, associado ao uso de cocaína, jogou seu filho recém-nascido numa parede agarrado pelas perninhas, mais ou menos como o homem de aço fez com o general Zod, no filme. Um pouco de realidade tempera nossas fantasias dando um sabor a vida que considerada apenas em essência, seria fria e sem sentido/sabor.
Uma coisa que me fez refletir sobre as peripécias narrativas do cinema independente e dos grandes Blockbusters é que o final deste filme é ousado em termos de impacto dramático. O Homem de Aço comete um assassinato para salvar uma família. Depois de sua luta contra o general do planeta Krypton e seus soldados, ter causado milhares de baixas civis, o último assassinato é jogado na cara do público. Se a intensão era humanizar o personagem, isso se fez pelo absurdo da desproporção em relação ao assassinato e as mortes não intencionais. Do mesmo modo que em Seven, na luta travada no caminho da luz, o jovem investigador torna-se um assassino.
Estamos indo rapidamente em direção a um destino incerto. Temos mais poderes do que podemos controlar e a razão parece como gasolina para apagar fogo. Somos como a densidade colapsando em direção ao ponto sem dimensão de onde nem a luz pode escapar.













Por Sabrina Ferigato
Ótimas reflexões Marco!
Relações com o universo do cinema me pareceram um jeito muito feliz de colocar em análise nosso atual contexto… É preciso acionar outros modos de perceber a vida e se afetar com ela… Para além da racionalização pura e limitada, a arte cinematográfica, associada com suas leituras nos dão boas lentes para olharmos o mundo de outro jeito… novas percepções…
Um destino incerto, me parece ser a única certeza que podemos ter. Ter mais poder do que controle sobre ele pode ser bom ou ruim, depende de que arranjo de poder estamos falando…
Obrigada!
bjos
Sabrina