Auto-antropologia e escrevivência
Talvez por fazer parte de um perfil que não é considerado um recorte, mas uma referência (equivocada) do todo (homem, branco, heterosexual, com formação acadêmica), nunca tenha me passado pela cabeça a possibilidade de ser eu mesmo o objeto de um estudo antropológico. Que dirá ser eu o objeto do meu próprio estudo antropológico. Mas isso faz todo o sentido, mesmo para alguém que carrega em sua história a própria ordem vigente (por ser, como já disse, um homem, branco e heterosexual…).
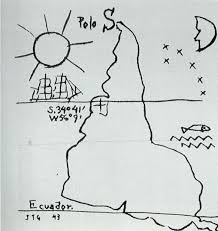
Foi isso que aprendi com a última aula ministrada no curso on-line “Epistemologias e Metodologias Negras, Descoloniais e Antirracistas”, organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas É’LÉÉKO, da Universidade Federal de Pelotas. A aula ministrada por Aline de Moura Rodrigues foi veiculada no dia 10/09/2020 e trouxe como tema “Potências auto-antropológicas: reflexões de uma estudante negra sobre teorias antropológicas contemporâneas” (e pode ser conferida aqui https://www.youtube.com/watch?v=L0H-n-gmsXE).
Durante mais de uma hora e meia, Aline abordou a sua trajetória de “escrevivência”, como ela mesma chama, construída na interface entre as inquietações da sua própria vida enquanto mulher negra, e os debates promovidos no Departamento de Antropologia da UFRGS, no curso de Ciências Sociais. Aliás, não por acaso, os próprios subtítulos do trabalho de Aline estão sob a alcunha de “inquietações”. Inquietações calcadas entre a trajetória acadêmica e de vida, se misturando o tempo todo. Como um bom exemplo disso, Aline cita como uma das referências do trabalho antropológico, sua mãe, mulher negra que trabalhou por muitos anos em “casas de família”. À mãe Aline faz menção como uma referência metodológica e uma inspiração para ser um ser potencialmente antropológico.
Nessa trajetória para galgar um lugar de observadora científica também de si própria, Aline menciona um evento chave: romper com o silêncio. Aliás, não apenas romper com o silêncio que foi subjetivado na população negra e em especial nas mulheres negras, mas também cartografar, investigar, analisar esse silêncio. Transformá-lo em objeto de estudo. Em certa altura Aline diz “tudo que nos afeta pode ser questionado”, e nesse “tudo” ocupa papel de destaque a construção do silêncio enquanto prática repressiva típica do machismo, do racismo, da homofobia e também da colonialidade. Inclusive Aline defende a necessidade de romper com a colonialidade promovendo o que ela apresenta como “descolonialidade radical”: é preciso reiventar metodologias para produzir pesquisa, conhecimento e ciência, mas também reiventar metodologias de existir. E tudo isso vai impactar profundamente na tentativa de pensar uma nova formação do ser antropólogo, baseada também em um processo auto-antropológico. Afinal, como diz Aline, “a antropologia e a etnografia não são feitas para mim, mas são feitas comigo”.
Na “inquietação II”, Aline é bastante didática ao explicar: “dos aprendizados e dos constantes embates que movimentam essa caminhada de graduar-me em Ciências Sociais, parece latente que o que busco é justamente ser uma antropóloga que consiga lidar com a auto-antropologia que a alteridade branca, masculina, heteronormativa do meio universitário impõe ao meu caminho.” Não por acaso a “inquietação II” tem como título “o que me faz estar antropóloga: a etnografia ou as inflexões da alteridade?”
E ainda nem falei sobre a menção que Aline faz à referências eurocêntricas antiquadas. Dada a densidade que Aline mostra estar presente na possibilidade de trazer toda a sua própria experiência como um elemento constitutivo da sua pesquisa antropológica, se desvenciliar de uma base teórica eurocêntrica e deslocada das nossas realidades parece até secundário. Além disso, outro ponto de destaque para a cientista é a necessidade de se pensar no que ela chama de “lugar de escuta”, um ponto fundamental localizado entre o silêncio e o lugar de fala. Afinal, se nossas próprias escritas nos movem, geram inquietações e reencontros, também o fazem em quem lê, escuta ou assiste.











Por patrinutri
Olá Rafael, muito bem vindo à Rede Humanizasus!
Que provocações vc traz por aqui a partir da fala de Aline de Moura Rodrigues!
Com certeza a antropologia pode ajudar em muito as pessoas a se enxergarem nos contextos sociais e também pode fazer com que a sociedade identifique suas construções nas relações entre si e com o ambiente onde vivem.
Mas o que mais me despertou a atenção foi esta possibilidade de interpretar o silencio como produto de dominação, não de uma vontade de não dizer ou manifestar mas como efeito da opressão e do modo de vida hegemônico.
Claro que é incomparável meus silêncios de sofrimento sendo uma mulher considerada branca (tenho raizes indígenas), de classe média, letrada, de vida urbana em relação a mulheres pretas em suas lutas sociais, mas tenho cá meus sofrimentos de opressão por ser mulher sim.
Vejo muito estes silências nos meandros dos serviços de saúde, onde um sistema ainda médico centrado, hospitalocéntrico, ainda silencia mulheres, outros profissioanis não médicos e de atençaõ primária e secundária.
Quantos silêncios temos a romper na saúde?
A humanização na prática tem esta função de proporcionar espaços para que estes silencios opressores sejam rompidos, promovendo a horizontalidade das relações e democracia institucional e ampliação do conceito de saúde.
Vamos seguindo em nossa luta em favor da humanização e com isso possibilitando o rompimento destes silêncios opressores.
AbraSUS